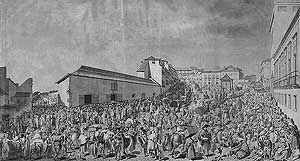PROJECTO DE LEI N.º 530/ IX
ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE CIDADE DA VILA DE ANADIA E POVOAÇÕES CONTÍGUAS (ALFÉLOAS, ARCOS, CANHA, FAMALICÃO, MALAPOSTA E VENDAS DA PEDREIRA, DA FREGUESIA DE ARCOS, E PÓVOA DO PEREIRO, DA FREGUESIA DA MOITA)
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
I. NOTA PRELIMINAR
É na região Centro (NUT II), no distrito de Aveiro e na sub-região do Baixo-Vouga (NUT III), que se localiza o município de Anadia, com os seus 217,13 km2 e 15 freguesias, onde residem 31.545 habitantes (Censos 2001), dos quais 26.629 são eleitores.
No contexto regional da Bairrada, onde é concelho rural de 1ª ordem, Anadia detém uma posição privilegiada de centralidade, confrontando com os concelhos de Águeda (a Norte), de Mortágua (a Este), da Mealhada (a Sul), de Cantanhede (a Sudoeste) e de Oliveira do Bairro (a Noroeste).
A sede deste concelho é a vila de Anadia, que se situa na freguesia de Arcos.
II. A VILA DE ANADIA: ANTECEDENTES / RAZÕES HISTÓRICAS
Foi Joaquim da Silveira quem veio esclarecer o significado do topónimo Nadia, que terá como étimo o latim nativa, e que, aplicado a aqua ou a fons, tomaria o significado de nascente. A história encarregou-se de deixar os mais diversos testemunhos sobre esta povoação, desde achados arqueológicos a menções registadas sobre pergaminho.
Prospecções arqueológicas realizadas no âmbito de trabalhos académicos conduziram à detecção de vestígios que poderão ser atribuídos ao Paleolítico e ao Neolítico. São menores as dúvidas no que respeita aos vestígios das Idades do Bronze e do Ferro: o Monte Crasto, em Anadia, poderá ter sido ocupado por um povoado fortificado, tendo-lhe sido associados alguns achados.
Claramente documentado está o período de domínio romano, que, neste território, se iniciou por volta de 50 a 40 a.C., com os esforços de conquista. Realizada esta, havia que consolidá-la, concorrendo para tal a construção de vias que facilitassem as deslocações entre locais estratégicos. Assim surgia a estrada Olisipo – Bracara Augusta (Lisboa – Braga), que, nesta região, assumiu um traçado paralelo ao do Rio Cértima. No caso específico de Anadia, esta via atravessava os campos situados entre a margem direita daquele rio e o Monte Crasto, vindo o seu traçado a perpetuar-se, mais tarde, no da chamada Estrada Real, a que, grosso modo, se sobrepõe hoje o da actual EN1/IC2.
Nos séculos seguintes, o povoamento desta zona ter-se-á mantido, mesmo nos anos conturbados das invasões muçulmanas e da posterior reconquista cristã. Os avanços e recuos da linha de fronteira foram aqui flagrantes, mas tal não impediu um esforço de ocupação efectiva do território, patente em diversas cartas que atestam a existência das povoações de Arcos (uilla de Arcus – 943), Anadia (illa Nadia – 1082), Alféloas (Almaphala de Rei – 1101) e do lugar do Montouro (Montem Aurem – 1140).
Ainda medievais, embora um pouco mais tardias, são as referências a Famalicão (Familicam – 1226), Pedreira (Vale d’ Aalen da Pedreira – 1329), Vale da Escura (monte que chaman Val d’ Escura – 1332) e Vale de Azar (poboa do Val do Azar – 1332). Posteriormente, a documentação revela-nos Três Arcos (1514), Póvoa de Roupeiro (1514), Fontela (Fatella – 1514), Canha (Vemdas de Canha – 1527) e Barrosa (1577). A Malaposta tem uma origem mais recente, associada à criação das carreiras de “mala-postas” que tinham, justamente neste lugar, uma das casas de muda (esta zona seria antes conhecida como Ponte da Pedra).
As cartas medievais devolvem-nos a preocupação de gestão dos bens aqui situados, sendo disso exemplo o aforamento outorgado, em 1333, pelo prior do convento do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra aos “nossos vassalos do nosso lugar de Anadia, daqueles casais que nós aí havemos”. Mas só em 21 de Agosto de 1514 este espaço será dotado dos mecanismos que lhe permitem ascender à condição de concelho “de jure“ (sendo plausível que já antes vivesse na condição de concelho “de facto”).
Anadia pertencia ainda ao mesmo mosteiro, mas é el-rei D. Manuel I quem lhe concede estatuto concelhio, na sequência da reforma da administração do reino. Saliente-se, no entanto, que o âmbito geográfico deste concelho de Anadia não corresponde ao da actual freguesia de Arcos – o foral apenas menciona os lugares de Anadia, Fontela e Alféloas. Por outro lado, 16 casais reguengos situados em Arcos e Três Arcos e 10 casais reguengos de Famalicão pertenciam ao vizinho concelho de Avelãs de Cima, enquanto uns moinhos de Alféloas eram mencionados no foral de Mogofores.
O concelho de Anadia, tal como a maioria dos concelhos portugueses, sofre transformações significativas durante o século XIX: em 1833, passa a pertencer ao de Avelãs de Cima, juntamente com os de Paredes do Bairro e do Pereiro; em 1835, desaparecem os concelhos de Aguim, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Ferreiros, Mogofores, Óis do Bairro, Sangalhos, Vilarinho do Bairro e Vila Nova de Monsarros, renascendo o de Anadia (com as freguesias de Arcos, Moita, Mogofores, Avelãs de Cima e Avelãs de Caminho) e mantendo-se o de S. Lourenço do Bairro (agora com as freguesias de S. Lourenço, Sangalhos, Óis do Bairro, Vilarinho do Bairro e Troviscal).
O concelho de Anadia cresce novamente em 1837, ano em que integra a freguesia de Vila Nova de Monsarros, e em 1853, quando se lhe juntam a freguesia de Tamengos e o extinto concelho de S. Lourenço do Bairro (que, entretanto, perde a freguesia do Troviscal, mas traz consigo a de Ancas). O século XX encarrega-se de introduzir as mais recentes alterações, com a criação das freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e de Aguim.
III. BREVE CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DEMOGRÁFICA
As características do espaço onde se situa a vila de Anadia justificam claramente o respectivo povoamento: trata-se de uma área de transição do ponto de vista geográfico, que marca a passagem de uma zona plana (a Oeste) para uma zona acidentada (a Este), percorrida pelo Rio Cértima, no sentido Sul-Norte, pelo Rio da Serra (afluente daquele), no sentido Sudeste-Noroeste, e por outros cursos de água de menor dimensão.
Aliás, esta área de confluência dos dois rios corresponde basicamente à da freguesia de Arcos, que, ocupando a zona central do concelho, confina com as freguesias de Tamengos, Óis do Bairro, S. Lourenço do Bairro, Mogofores, Sangalhos, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros.
Estamos, pois, perante uma área plana, situada entre a margem direita do Cértima e a margem esquerda do Serra, e que se prolonga um pouco para Norte do ponto onde estes rios se encontram.
Porque reúne, naturalmente, condições propícias à fixação humana, nela surgiram diversas povoações que, nos nossos dias, acabariam por originar um aglomerado populacional contínuo constituído por Canha, Malaposta, Famalicão, Alféloas, Arcos, Anadia, Vendas da Pedreira e Póvoa do Pereiro. Esta última pertence à freguesia da Moita, mas representa a principal área de expansão urbana de Anadia, juntamente com o Montouro, numa lógica de crescimento para Sul e Sudoeste. Ou seja, uma área urbana contínua com um total de cerca de 6,5 km2, onde residem mais de seis mil habitantes.
Está já dotada de todas as infra-estruturas básicas que garantem a qualidade de vida de um núcleo urbano desta dimensão e, dada a sua centralidade, encontra-se servida por algumas das principais vias terrestres regionais e nacionais: a auto-estrada A1, a estrada EN1/IC2, as estradas ENs 235, 333-1 e 334, bem como a Linha do Norte (cujo traçado foi, no século XIX, retirado da proximidade imediata da vila de Anadia para não prejudicar a povoação).
IV. PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL
A existência de património classificado é uma realidade neste aglomerado urbano, tendo ascendido à categoria de imóvel de interesse público o impressionante Palácio da Graciosa, em Alféloas (finais do século XVIII) e à de imóvel de interesse concelhio a Capela de S. Sebastião (século XVIII) e a Casa Sampaio (que pertenceu ao pintor Fausto Sampaio), ambas em Anadia.
No entanto, o valor artístico do património de Anadia está igualmente patente na Igreja de S. Paio (Arcos, século XVIII), na Capela de Nossa Senhora das Febres (Anadia, séculos XVII-XVIII), na Capela de S. Mamede (Famalicão, século XVII?), no edifício da Mala-Posta da Ponte da Pedra (Malaposta, c. 1859), e nos cruzeiros de Arcos (1716), de Famalicão (1670) e da Póvoa do Pereiro (1677). Destaque ainda para os Paços do Município de Anadia e para os Palacetes dos Seabras de Castro (Anadia), da Condessa de Vinhais (Anadia) e dos Condes de Foz de Arouce (Famalicão).
No âmbito da arquitectura contemporânea, merecem realce a fachada arte nova do antigo estabelecimento comercial de Justino Sampaio Alegre (1908), bem como a Estação Vitivinícola de Anadia, o Palácio da Justiça de Anadia (projectado por Rodrigues Lima e com baixos-relevos de Leopoldo de Almeida, concluído em 1966), o novo edifício da Caixa Geral de Depósitos (projectado por Carrilho da Graça, entre 1983 e 1988) e as instalações do Museu do Vinho (um projecto de André Santos em co-autoria com Manuela Lara e António Lousa).
Finalmente, uma referência às artes plásticas, onde pontuam um fresco de Júlio Resende (Tribunal de Anadia, 1966) e vários quadros de Fausto Sampaio (pertença de diversos proprietários), peças de escultura religiosa (imagens em pedra dos séculos XV e XVI e figuras de madeira dos séculos XVII e XVIII), escultura funerária, retábulos (século XVIII), escultura comemorativa (Monumento aos Mortos da Grande Guerra e monumentos de homenagem ao Visconde de Seabra, a Fausto Sampaio e a Manuel Rodrigues Lapa) e azulejaria (referência especial aos painéis de azulejos da Igreja de Arcos, datados de 1747), entre outras.
V. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
O sector primário ainda detém no concelho algum do seu peso tradicional (sendo a viticultura a principal actividade agrícola). Mas cabe demonstrar que no aglomerado de Anadia ganha preponderância o sector terciário por força da localização, neste centro urbano do concelho, de serviços relevantes. Cabe também admitir a importância da instalação, dentro e nas imediações do seu perímetro, de indústrias diversas bem como de estabelecimentos ligados à actividade turística.
A indústria remete-nos para duas vertentes principais. Por um lado, o sector vinícola (com a existência de cerca de uma dezena de caves e de um número considerável de produtores/engarrafadores de excelência) e, por outro lado, empresas ligadas à indústria cerâmica e dos materiais de construção, que tem aqui um peso considerável. Paralelamente, e com alguma tradição, encontramos actividades relacionadas com as artes gráficas, panificação e pastelaria, madeiras, carpintaria e mobiliário.
No que respeita ao comércio, há que reconhecer um predomínio da vertente tradicional, embora existam já diversas estruturas com dinâmicas e dimensões substancialmente diferentes, designadamente grandes superfícies pertença de importantes grupos económicos. O aglomerado conta, assim, com uma grande diversidade de estabelecimentos comerciais que suprem, no plano local, um vastíssimo leque de necessidades.
Também na área dos serviços há uma resposta eficaz e adequada às exigências do aglomerado, proporcionada por entidades ligadas à saúde, à justiça, à segurança e protecção civil, à educação, à administração, à banca, aos seguros, à construção civil e à contabilidade, entre outros.
No domínio do turismo, e apesar de ser na Curia que se concentram as grandes unidades hoteleiras do concelho, não poderemos deixar de mencionar a existência, em Anadia, de um moderno hotel de três estrelas, bem como de diversos restaurantes, pastelarias, cafés e agências de viagens.
VI. EQUIPAMENTOS E ACTIVIDADE SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA
É em Anadia que se situam as principais infra-estruturas ao nível de:
· administração local: Câmara Municipal de Anadia, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Anadia e Junta de Freguesia de Arcos;
· administração pública: Repartição de Finanças e Tesouraria da Fazenda Pública, Conservatórias dos Registos Civil e Predial e Cartório Notarial;
· justiça: Tribunal Judicial da Comarca de Anadia, Julgados de Paz e Instituto de Reinserção Social, para além de numerosos escritórios de advogados;
· segurança: Quartel da Guarda Nacional Republicana (Destacamento Territorial e Posto);
· protecção civil: Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros Voluntários de Anadia;
· saúde: Hospital Distrital, Centro de Saúde, clínicas e consultórios médicos com especialidades muito diversas, farmácias, laboratórios de análises e centros de reabilitação física, entre outros;
· educação: creches, jardins de infância (redes pública e privada), quatro escolas EB 1 (rede pública), uma escola EB 2/3, uma escola profissional, uma escola secundária (com 3º ciclo) e um colégio (com todos os graus de ensino); existem ainda escolas particulares para ensino de línguas, dança, expressão musical e artes plásticas;
· acção social: Serviço Local da Segurança Social, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Núcleo de Intervenção Precoce, Rede Social, Agrupamento n.º 221 de Anadia do Corpo Nacional de Escutas, Santa Casa da Misericórdia de Anadia, APPACDM de Anadia e outras instituições particulares com intervenção neste domínio;
· transportes e comunicações: estação de correios, praça de táxis e carreiras de transportes públicos;
· apoio aos sectores económicos: Comissão Vitivinícola da Bairrada, Estação Vitivinícola da Bairrada, Farmácia Agrícola, Cooperativa Agrícola, veterinários, delegações de associações comerciais e industriais e mercado municipal (encontrando-se um moderno e completo equipamento em adiantada fase de conclusão);
· comunicação social: um semanário regional, um quinzenário regional, uma delegação de semanário regional e uma rádio local;
· novas tecnologias: Fundação para as Novas Tecnologias da Informação e Espaço Internet;
· cultura: Biblioteca Municipal (encontra-se em construção um novo edifício, no âmbito da Rede de Leitura Pública), Centro Cultural (com Galeria Municipal de Exposições e Sala de Formação), Casa e Biblioteca Rodrigues Lapa, Museu do Vinho Bairrada, Museu José Luciano de Castro, Cine-Teatro (em construção), auditórios e anfiteatros (dando ênfase especial ao Anfiteatro do Vale Santo, na encosta nascente do Monte Crasto, que tem servido como espaço multidisciplinar, albergando variadíssimos eventos de carácter cultural, social, tempos livres e lazer, bem como de desenvolvimento económico, nomeadamente a Feira da Vinha e do Vinho); são numerosas as associações que desenvolvem iniciativas culturais da mais diversa índole (espectáculos musicais e teatrais, exposições, seminários e edição de publicações, entre outras);
· desporto: Complexo Desportivo (Estádio, Piscinas, Courts de Ténis, Campo Sintético, e um novo Pavilhão de Desportos, actualmente em construção), Pavilhão Gimno-Desportivo de Anadia, Campo de Futebol Pequito Rebelo (Anadia), Campo de Futebol José Mariz da Silva (Famalicão), polidesportivos descobertos (Anadia e Póvoa do Pereiro) e espaços desportivos enquadrados em recintos escolares; a prática desportiva é promovida por várias colectividades, algumas delas em actividade há longas décadas, sendo de destacar o Anadia Futebol Clube (futebol, basquetebol e hóquei em patins) e o Atlético Clube de Famalicão;
· espaços verdes: jardins públicos e privados (palacetes), Monte Crasto e Choupal, entre outros.
VII. NOTA FINAL
A importância deste espaço foi reconhecida ao longo dos séculos por todos quantos aqui interagiram, num esforço contínuo de investimento em prol do progresso e da qualidade de vida dos seus habitantes.
A presente caracterização revela a existência da dinâmica que tem sido o suporte do crescimento e desenvolvimento integrado que Anadia consolidou e vem ampliando.
Face ao exposto, considera-se demonstrado que o aglomerado urbano contínuo constituído pela vila de Anadia e povoações contíguas (Alféloas, Arcos, Canha, Famalicão, Malaposta e Vendas da Pedreira, da freguesia de Arcos, e Póvoa do Pereiro, da freguesia da Moita), reúne as condições necessárias à sua elevação a cidade.
Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis e atendendo ao facto de estarem reunidos os requisitos previstos na Lei n.º 11/82 de 2 de Junho, o Deputado do Grupo Parlamentar do PSD abaixo assinado, apresenta o seguinte Projecto de Lei:
Artigo único
É elevada à categoria de cidade a vila de Anadia e povoações contíguas (Alféloas, Arcos, Canha, Famalicão, Malaposta e Vendas da Pedreira, da freguesia de Arcos, e Póvoa do Pereiro, da freguesia da Moita).
Assembleia da República, 25 de Novembro de 2004.
O Deputado do PSD,
José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro
 Uma Biografia de José Cid
Uma Biografia de José Cid Outra Biografia
Outra Biografia